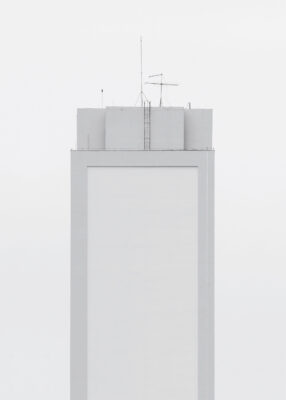“Estou fazendo tudo isso
porque tenho um sonho:
a ópera – a grande ópera da selva”
Fitzcarraldo
“Essa é uma terra
que Deus, caso exista,
criou com raiva.”
Burden of Dreams
Monumental costuma ser aquilo que nos choca ou impressiona. Tal qual o Coliseu, a Acrópole ou Notre-Dame. Todos estes, símbolos físicos da natureza humana lutando contra seu único destino – desaparecer.
Filmado em Manaus e na Amazônica peruana, Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog, é uma epopeia cinematográfica visionária, como também o são Apocalipse Now e 2001 – Uma Odisseia no Espaço. Assim como as obras de Coppola e Kubrick, a do alemão surge como a epifania delirante da imagem, categoria tão rara ao cinema que, ouso dizer, sequer existe atualmente. Neste hemisfério esquecido do vocabulário audiovisual, Fitzcarraldo é o Coliseu da imaginação. Monumento distinto, sem dúvida, porque sua matéria não é o concreto e as vigas, mas produto dos fotogramas; e sua presença não é outra senão ocasional, ativada unicamente pela projeção. Através da saga de um protagonista determinado a construir uma casa de ópera em meio à selva, Herzog erigiu seu monumento particular.
O filme impressiona ainda muito antes do início. O enredo improvável, do empreendedor megalomaníaco que tem de fazer um navio atravessar a floresta para financiar a paixão pela música, é inspirado na história verídica de um irlandês. Ao escutá-la, Herzog não teve dúvidas de que deveria levá-la às telas, o que, no seu caso, significaria realizá-la por completo. A empreitada levou muitos anos de produção e colecionou inúmeros insucessos. O mais marcante foi o episódio em que, após quatro meses de filmagem, o então protagonista Jason Robards adoeceu e os médicos o proibiram de continuar. Aos poucos, Herzog percebia que o sonho que idealizara tinha um aspecto quente, úmido e se parecia cada vez mais com o inferno dantesco.
Em tela, Brian Fitzgerald é o aventureiro de sobrenome impronunciável, que os nativos optaram por chamar Fitzcarraldo. Conhecido também como “o conquistador do inútil” por, primeiro, ter fracassado no ramo das ferrovias no território andino e, agora, apostar em fazer fortuna com uma fábrica de gelo em solo tropical, o protagonista tem no excepcional Klaus Kinski uma das mais marcantes composições de personagem. Afinal, a excentricidade reverbera por cada um de seus poros, seja pelo semblante, ora atormentado, ora maravilhado, pela vasta cabeleira desgrenhada, pelo olhar esbugalhado e profundo, ou, ainda, pelo terno branco, alvura dupla a reforçar a posição de deslocado do protagonista – não apenas quando na Amazônia, mas também no mundo.
Em meio à selva e pilotando uma empreitada destinada novamente ao fracasso, Fitz é o símbolo do estupor da visão europeia diante da natureza. Ainda que o filme não dialogue com o revisionismo colonial, a essência do personagem, atrelada ao desejo irrefreável de levar seu plano adiante a qualquer custo, demonstra a evidente mio- pia diante da existência do outro. A relação entre homem e natureza intermediada pelo enredo de Fitzcarraldo é a prova de que o maravilhoso e a loucura facilmente dissimulam o autocentramento. Em uma das cenas que reforçam sua obsessão, Kinski sobe até o sino da igreja e, contrariado por não receber financiamento para sua ópera, começa a bradar que o local religioso somente reabriria quando sua casa de shows – seu sagrado secular – estivesse funcionando.
Vencedor do prêmio de Melhor Filme em Cannes no ano de lançamento, o longa sublinha a vinculação de prepotência humana diante da natureza, permitindo refletir sobre o passado cultural do protagonista. Observação essa que somente é possível quando toma- da a partir de uma sociedade que idealizou, e, portanto, desconhece, o selvagem. Afinal, séculos de Idade Média não legaram à Europa outro cenário senão o contínuo derramamento de sangue e o desmatamento completo de suas florestas. A vontade de regozijar-se em meio ao verde somente pode estar associada ao ideal romantizado e ingênuo do bucolismo europeu. Ao sonhar a natureza, Fitz despertou na Amazônia sem tempo para perceber que as feições ali eram as do seu pior pesadelo.
A ópera que Fitz tanto ama, encarnada na figura de Enrico Caruso, é estilisticamente transportada como forma para dentro do filme. Assim, Herzog não apenas molda seu monumento como imprime nele traços operísticos específicos, como o excesso, a megalomania e o histriônico, resultando em uma obra invariavelmente gótica e esteticamente assombrosa. Por vezes, despropositadamente monumental. Tão monumental que temos a impressão de que a tela – mesmo a do cinema – é pequena demais para comportar tanto sonho e beleza.

Acervo Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen